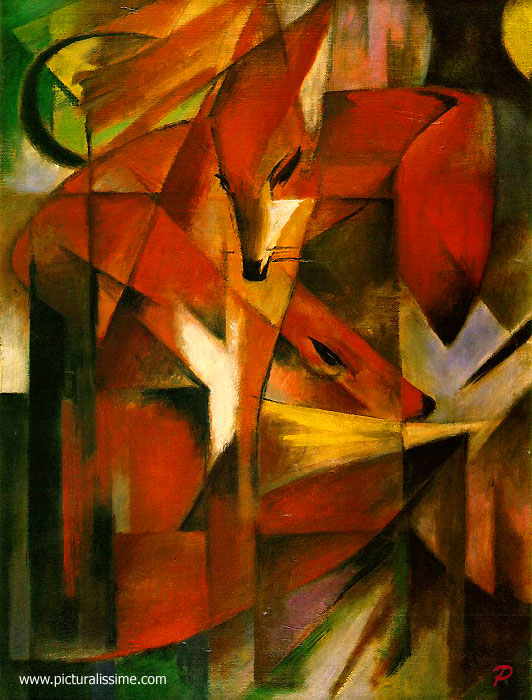É meio discutível a mensagem que o filme Babel procura transmitir. A sucessão de tragédias nos quatro cantos do mundo, todas relacionadas, resulta de mera fatalidade. Ninguém é mau; é como se o mal tivesse existência própria e os seres humanos fossem seus propagadores involuntários. O gentil chinês que dá a arma a um guia, na África, o faz por amizade e gratidão; este, que vende a arma ao pai dos meninos, também é um bom homem, segundo o próprio chinês. O pai dos meninos, um honesto pastor de cabras no Marrocos, entrega a arma aos filhos, cujas idades não somam mais de 16 anos, para que matem os daninhos chacais; quando eles disparam contra um ônibus de turistas, atingindo uma norte-americana, só queriam testar o alcance das balas. A babá dos filhos dessa mulher só os leva ao México ilegalmente para poder assistir ao casamento do filho, e o sobrinho dela abandona as crianças no deserto da fronteira por medo da polícia norte-americana truculenta e racista. Talvez seja essa a causa da sensação que nos acomete, ao cabo do filme, de que falta alguma coisa. Sabemos que pessoas mal-intencionadas existem, ao contrário do que o filme pretende postular. Concordo, o mal está presente na ignorância do pastor que põe um um rifle na mãos de um garoto de oito anos; mas a verdade é que pastores armados no Marrocos não são raridade, que o contrabando de armas é a mais prejudicial das formas de comércio, e que as pessoas envolvidas nele sabem muito bem que essas armas serão usadas para matar seres humanos, não chacais. Qual é, portanto, o propósito de relativizar a maldade humana a ponto de negar-lhe a própria existência? No caso do filme Babel, a intenção parece ser a negação radical do maniqueísmo de Hollywood, e o convite a uma compreensão maior entre o Primeiro Mundo e o Terceiro, cuja miséria e atraso ocasionam os problemas que reverberam no Primeiro. Mas duvido que a constatação de que "a tragédia pode visitar a qualquer um de nós porque todos somos irmãos" faça muito para ajudar a erradicar a especulação financeira sobre a morte alheia praticada por uma família Bush, ou a conquista de poder via terror fundamentalista no estilo de um Osama Bin Laden. A propósito, como Babel retrataria esses dois indivíduos tão nocivos? Como homens bem-intencionados levados pela fatalidade a promover chacinas à sua revelia?
É meio discutível a mensagem que o filme Babel procura transmitir. A sucessão de tragédias nos quatro cantos do mundo, todas relacionadas, resulta de mera fatalidade. Ninguém é mau; é como se o mal tivesse existência própria e os seres humanos fossem seus propagadores involuntários. O gentil chinês que dá a arma a um guia, na África, o faz por amizade e gratidão; este, que vende a arma ao pai dos meninos, também é um bom homem, segundo o próprio chinês. O pai dos meninos, um honesto pastor de cabras no Marrocos, entrega a arma aos filhos, cujas idades não somam mais de 16 anos, para que matem os daninhos chacais; quando eles disparam contra um ônibus de turistas, atingindo uma norte-americana, só queriam testar o alcance das balas. A babá dos filhos dessa mulher só os leva ao México ilegalmente para poder assistir ao casamento do filho, e o sobrinho dela abandona as crianças no deserto da fronteira por medo da polícia norte-americana truculenta e racista. Talvez seja essa a causa da sensação que nos acomete, ao cabo do filme, de que falta alguma coisa. Sabemos que pessoas mal-intencionadas existem, ao contrário do que o filme pretende postular. Concordo, o mal está presente na ignorância do pastor que põe um um rifle na mãos de um garoto de oito anos; mas a verdade é que pastores armados no Marrocos não são raridade, que o contrabando de armas é a mais prejudicial das formas de comércio, e que as pessoas envolvidas nele sabem muito bem que essas armas serão usadas para matar seres humanos, não chacais. Qual é, portanto, o propósito de relativizar a maldade humana a ponto de negar-lhe a própria existência? No caso do filme Babel, a intenção parece ser a negação radical do maniqueísmo de Hollywood, e o convite a uma compreensão maior entre o Primeiro Mundo e o Terceiro, cuja miséria e atraso ocasionam os problemas que reverberam no Primeiro. Mas duvido que a constatação de que "a tragédia pode visitar a qualquer um de nós porque todos somos irmãos" faça muito para ajudar a erradicar a especulação financeira sobre a morte alheia praticada por uma família Bush, ou a conquista de poder via terror fundamentalista no estilo de um Osama Bin Laden. A propósito, como Babel retrataria esses dois indivíduos tão nocivos? Como homens bem-intencionados levados pela fatalidade a promover chacinas à sua revelia?
24.2.07
Fatalidade é o Deus de Babel
 É meio discutível a mensagem que o filme Babel procura transmitir. A sucessão de tragédias nos quatro cantos do mundo, todas relacionadas, resulta de mera fatalidade. Ninguém é mau; é como se o mal tivesse existência própria e os seres humanos fossem seus propagadores involuntários. O gentil chinês que dá a arma a um guia, na África, o faz por amizade e gratidão; este, que vende a arma ao pai dos meninos, também é um bom homem, segundo o próprio chinês. O pai dos meninos, um honesto pastor de cabras no Marrocos, entrega a arma aos filhos, cujas idades não somam mais de 16 anos, para que matem os daninhos chacais; quando eles disparam contra um ônibus de turistas, atingindo uma norte-americana, só queriam testar o alcance das balas. A babá dos filhos dessa mulher só os leva ao México ilegalmente para poder assistir ao casamento do filho, e o sobrinho dela abandona as crianças no deserto da fronteira por medo da polícia norte-americana truculenta e racista. Talvez seja essa a causa da sensação que nos acomete, ao cabo do filme, de que falta alguma coisa. Sabemos que pessoas mal-intencionadas existem, ao contrário do que o filme pretende postular. Concordo, o mal está presente na ignorância do pastor que põe um um rifle na mãos de um garoto de oito anos; mas a verdade é que pastores armados no Marrocos não são raridade, que o contrabando de armas é a mais prejudicial das formas de comércio, e que as pessoas envolvidas nele sabem muito bem que essas armas serão usadas para matar seres humanos, não chacais. Qual é, portanto, o propósito de relativizar a maldade humana a ponto de negar-lhe a própria existência? No caso do filme Babel, a intenção parece ser a negação radical do maniqueísmo de Hollywood, e o convite a uma compreensão maior entre o Primeiro Mundo e o Terceiro, cuja miséria e atraso ocasionam os problemas que reverberam no Primeiro. Mas duvido que a constatação de que "a tragédia pode visitar a qualquer um de nós porque todos somos irmãos" faça muito para ajudar a erradicar a especulação financeira sobre a morte alheia praticada por uma família Bush, ou a conquista de poder via terror fundamentalista no estilo de um Osama Bin Laden. A propósito, como Babel retrataria esses dois indivíduos tão nocivos? Como homens bem-intencionados levados pela fatalidade a promover chacinas à sua revelia?
É meio discutível a mensagem que o filme Babel procura transmitir. A sucessão de tragédias nos quatro cantos do mundo, todas relacionadas, resulta de mera fatalidade. Ninguém é mau; é como se o mal tivesse existência própria e os seres humanos fossem seus propagadores involuntários. O gentil chinês que dá a arma a um guia, na África, o faz por amizade e gratidão; este, que vende a arma ao pai dos meninos, também é um bom homem, segundo o próprio chinês. O pai dos meninos, um honesto pastor de cabras no Marrocos, entrega a arma aos filhos, cujas idades não somam mais de 16 anos, para que matem os daninhos chacais; quando eles disparam contra um ônibus de turistas, atingindo uma norte-americana, só queriam testar o alcance das balas. A babá dos filhos dessa mulher só os leva ao México ilegalmente para poder assistir ao casamento do filho, e o sobrinho dela abandona as crianças no deserto da fronteira por medo da polícia norte-americana truculenta e racista. Talvez seja essa a causa da sensação que nos acomete, ao cabo do filme, de que falta alguma coisa. Sabemos que pessoas mal-intencionadas existem, ao contrário do que o filme pretende postular. Concordo, o mal está presente na ignorância do pastor que põe um um rifle na mãos de um garoto de oito anos; mas a verdade é que pastores armados no Marrocos não são raridade, que o contrabando de armas é a mais prejudicial das formas de comércio, e que as pessoas envolvidas nele sabem muito bem que essas armas serão usadas para matar seres humanos, não chacais. Qual é, portanto, o propósito de relativizar a maldade humana a ponto de negar-lhe a própria existência? No caso do filme Babel, a intenção parece ser a negação radical do maniqueísmo de Hollywood, e o convite a uma compreensão maior entre o Primeiro Mundo e o Terceiro, cuja miséria e atraso ocasionam os problemas que reverberam no Primeiro. Mas duvido que a constatação de que "a tragédia pode visitar a qualquer um de nós porque todos somos irmãos" faça muito para ajudar a erradicar a especulação financeira sobre a morte alheia praticada por uma família Bush, ou a conquista de poder via terror fundamentalista no estilo de um Osama Bin Laden. A propósito, como Babel retrataria esses dois indivíduos tão nocivos? Como homens bem-intencionados levados pela fatalidade a promover chacinas à sua revelia?
23.2.07
Quando Admond chorou
 Encontrei hoje, após anos de busca, o livro When Nietzsche Wept, de Irvin Yalom. Eu o dera de presente ao meu saudoso amigo Admond Ben Meir, o Filósofo Virtual, no aniversário dele, 16 de junho de 98. Escrevi a seguinte dedicatória:
Encontrei hoje, após anos de busca, o livro When Nietzsche Wept, de Irvin Yalom. Eu o dera de presente ao meu saudoso amigo Admond Ben Meir, o Filósofo Virtual, no aniversário dele, 16 de junho de 98. Escrevi a seguinte dedicatória:
.
When Nietzsche wept, my dearest friend, the Virtual Philosopher, told him: "Don't weep, Friedrich. It is no dishonour to be second best after me." Happy Birthday!
.
Quando Admond morreu no ano seguinte, sua mãe me vendeu por preço de mãe quase todos os livros dele, que compõem o núcleo da minha biblioteca hoje, e o livro do Yalom veio de novo parar nas minhas mãos. Na última página, meu amigo havia escrito sua opinião sobre o livro:
.
Inteligente, superbem construído, diálogos instigantes, conhecimento de causa... Fantástico!
23/7/98 - quinta-feira.
23/7/98 - quinta-feira.
.
Só então li o livro, e escrevi o seguinte comentário, logo abaixo do comentário dele:Faço minhas as palavras do meu amigo Admond, a quem presenteei este livro, tomado de volta após a sua morte, em 1999. Minha única crítica: a fácil resolução do problema de Breuer, recorrendo apenas a uma sessão de hipnose, que resultou miraculosa... e muito improvável.
Domingo, 13/10/2002.
Percebi o quanto em comum tinham Nietzsche e o Filósofo Virtual, além da genialidade e, claro, dos pendores filosóficos. Ambos passaram a vida inteira doentes, padecendo as dores da limitação física e da inteligência superior, morreram antes do seu tempo e pagaram um preço alto demais pelo gênio.
Eu ia colocar aqui uma foto do Admond que eu tinha (essa aí em cima é do Nietzsche, em 1899, pouco antes de morrer), mas guardei-a dentro de um livro, crente de que o meu amigo apreciaria a boa companhia. Ironicamente, esqueci qual era o livro.
Domingo, 13/10/2002.
Percebi o quanto em comum tinham Nietzsche e o Filósofo Virtual, além da genialidade e, claro, dos pendores filosóficos. Ambos passaram a vida inteira doentes, padecendo as dores da limitação física e da inteligência superior, morreram antes do seu tempo e pagaram um preço alto demais pelo gênio.
Eu ia colocar aqui uma foto do Admond que eu tinha (essa aí em cima é do Nietzsche, em 1899, pouco antes de morrer), mas guardei-a dentro de um livro, crente de que o meu amigo apreciaria a boa companhia. Ironicamente, esqueci qual era o livro.
.
Por onde você anda, fratello?
12.2.07
Deixaram Ricardo Ramos de fora
 Nesta madrugada iniciei a leitura, com sete anos de atraso, da coletânea Os Cem melhores Contos Brasileiros do Século. Século XX, bem-entendido. Já me deliciei com Porque Lulu Bergantim Não Atravessou o Rubicão, de José Cândido de Carvalho, já me comovi com A Nova Dimensão do Escritor Jeffrey Curtain, de Marina Colasanti, e já me decepcionei com A Balada do Falso Messias, de Moacyr Scliar. Foi muito comentada a ausência de Guimarães Rosa, decorrente de problemas de direito autoral. Estranhei, mas não lamentei, a ausência dos auto-intitulados "Trangressores da Geração 90", a saber, Marcelo Mirisola, Nelson de Oliveira e outros. Desses, só André Sant'Anna foi incluído. Mas uma ausência é injustificável: a de Ricardo Ramos, filho de Graciliano e um dos melhores escritores deste país. A antologia, organizada por um acadêmico qualquer, traz nada menos que cinco contos do superestimado Rubem Fonseca, e nenhum do subestimado Ricardo Ramos, autor do romance As Fúrias Invisíveis e do livro de contos Toada para Surdos, fonte da citação a seguir:
Nesta madrugada iniciei a leitura, com sete anos de atraso, da coletânea Os Cem melhores Contos Brasileiros do Século. Século XX, bem-entendido. Já me deliciei com Porque Lulu Bergantim Não Atravessou o Rubicão, de José Cândido de Carvalho, já me comovi com A Nova Dimensão do Escritor Jeffrey Curtain, de Marina Colasanti, e já me decepcionei com A Balada do Falso Messias, de Moacyr Scliar. Foi muito comentada a ausência de Guimarães Rosa, decorrente de problemas de direito autoral. Estranhei, mas não lamentei, a ausência dos auto-intitulados "Trangressores da Geração 90", a saber, Marcelo Mirisola, Nelson de Oliveira e outros. Desses, só André Sant'Anna foi incluído. Mas uma ausência é injustificável: a de Ricardo Ramos, filho de Graciliano e um dos melhores escritores deste país. A antologia, organizada por um acadêmico qualquer, traz nada menos que cinco contos do superestimado Rubem Fonseca, e nenhum do subestimado Ricardo Ramos, autor do romance As Fúrias Invisíveis e do livro de contos Toada para Surdos, fonte da citação a seguir:O espelho mostra os olhos, na órbita dos óculos, e as bolsas que debaixo deles se arredondam, meias-luas empapuçadas, com estrias, como se em relevo sobre o rosto cavado pesassem, repuxassem os dois globos nadando em baço líquido, o esquerdo mais lacrimoso a um canto, o direito um pouco mais estreito, ou contraído, essa diminuição que não é de perceber-se logo, deve-se firmar a vista para notá-la, o que nem sempre acontece pois a visão também se encolheu, desfocada, daí a sensação de um rosto a fazer mira, de tocaia no instante do tiro, enquanto vêm mais à tona o cinzento dos aros, o opaco das lentes, porque os olhos são por trás e afundam, uma vaga lembrança do que foram mostra o espelho. Mas não o que tanto viram para se cansar tão depressa.
9.2.07
Pot-pourri

Lulla e a primeira-drama diante da prioridade dele na presidência.

Leio na Folha que a educação do Brasil teve uma piora drástica no ensino médio e fundamental. Nada mais coerente num país que elegeu, e recentemente reelegeu presidente da República um apedeuta. Alguém imagina um povo de Primeiro Mundo, ultra-democrático, socialista até, escolhendo para chefe de Estado um semi-analfabeto? Os franceses aplaudem o Lulla, mas nunca elegeram um ignorante presidente ou premiê. Idiotas sim, ignorantes não. A ironia disso é que o Lulla, como brilhantemente observou Carlos Vereza, é uma invenção da USP, da UNICAMP e das comunidades eclesiais de base.
G

A exibição do documentário A Verdade sobre o Opus Dei pelo The History Channel (por que não pode chamar-se aqui Canal de História, como em Portugal?) levou-me à constatação de que sigilo em movimentos religiosos transforma-os em seitas aos olhos do público. Os templários e os jesuítas, em suas épocas de expansão, sofreram as mesmas calúnias hoje lançadas contra os discípulos de São Josemaría Escrivá: conciliábulos secretos, enriquecimento suspeito, manipulação de governos, aliciamento de fiéis. Nada de novo sob a chuva, como diriam os ingleses.
G
A feiosa porém atlética Franka Potente faz jus ao nome e sobrenome em  Corra Lola Corra, talvez o melhor do cinema alemão contemporâneo. É ela mesma que corre durante o filme inteiro, nada de dublês nem cenas reaproveitadas.
Corra Lola Corra, talvez o melhor do cinema alemão contemporâneo. É ela mesma que corre durante o filme inteiro, nada de dublês nem cenas reaproveitadas.
 Corra Lola Corra, talvez o melhor do cinema alemão contemporâneo. É ela mesma que corre durante o filme inteiro, nada de dublês nem cenas reaproveitadas.
Corra Lola Corra, talvez o melhor do cinema alemão contemporâneo. É ela mesma que corre durante o filme inteiro, nada de dublês nem cenas reaproveitadas. Fico assistindo a filmes reprisados enquanto não entra em cartaz Satori Uso, o documentário do meu amigo Grota sobre o esquivo poeta japonês que viveu no Brasil na década de 50 e foi amigo de Jack Kerouac. O fato de ele nunca ter existido é um detalhe mesquinho. As pessoas que mais vale a pena conhecer nunca existiram.
7.2.07
Rainha Helena
A despeito do título, A Rainha (2006), de Stephen Frears, não pretende ser uma cinebiografia de Elizabeth II da Inglaterra, mas tão-somente uma reflexão sobre a inadequação de uma monarquia em um país de governo republicano. Helen Mirren, não só uma das maiores atrizes vivas, como também repleta de rainhas inglesas no currículo (incluindo Elisabete I), interpreta nada menos que perfeitamente a pouco carismática e conscienciosa titular atual do Palácio de Buckingham, entronizada numa época em que monarcas eram ainda tão taken for granted que não se sentiam na obrigação de dar satisfação a quem quer que fosse, muito menos ao povo. Diferente de hoje, em que a família real é obrigada a merecer, de alguma forma, os 40 milhões de libras que custa ao contribuinte inglês, embora Elizabeth inicialmente não se tenha dado conta disso, quando, em 1997, chocou o povo britânico com sua indiferença diante da morte trágica de sua odiada e carismática ex-nora, Lady Diana, que tantos problemas e escândalos havia feito chover sobre a debilitada herança de Guilherme o Conquistador.
O filme tem início com a eleição do primeiro-ministro Tony Blair (muito bem defendido pelo efeminado Michael Sheen, que imita à perfeição o sorriso afetado do premiê), para contrariedade de Elizabeth, que obviamente preferia um conservador. Com a morte de Diana, então divorciada do príncipe Charles, e a recusa da família real em outorgar-lhe honras fúnebres principescas, ou mesmo de fazer um espetáculo público da dor que não sentia absolutamente, Blair vê-se com uma crise monárquica nas mãos. Embora socialista, percebe de imediato que sua sobrevivência política depende da sobrevivência da monarquia decrépita que o seu gabinete recém-empossado representa.
Em alguns momentos o filme parece reverente demais, já que quase todos os personagens estão vivos, mas não faltam críticas ácidas ao anacronismo e insensibilidade dos Windsors. Charles é retratado como o que de fato é, um patético homem de meia-idade cuja vida consiste em esperar pela morte da mãe. Pior ainda é o príncipe-consorte Philip, nada além de um velho reacionário que só pensa em caçar. Em A Rainha Diana não é santificada como o foi pelo populacho inglês; é apenas uma memória, com direito a várias imagens de arquivo, que assombra a família real depois de morta tanto quanto a atormentou em vida. Nem Blair, a força modernizante da história, é poupado, quando Elizabeth, no fim do filme, sentencia que um dia ele também será odiado pelo povo britânico, como de fato foi, ao tornar-se lacaio do criminoso George W. Bush na invasão do Iraque.
O único momento poético do filme fica por conta do cervo imperial, no qual Elizabeth vê a si própria, que acaba caçado e decapitado, para rara consternação dessa mulher que suprimiu seus sentimentos à força de reprimi-los. De resto, A Rainha faz jus à própria Elizabeth: frio, competente, ocasionalmente justo, sem sal e cujo poder reside apenas na imagem.
Assinar:
Postagens (Atom)